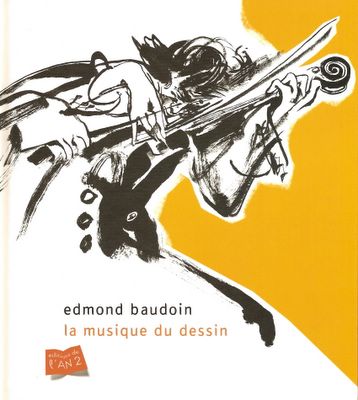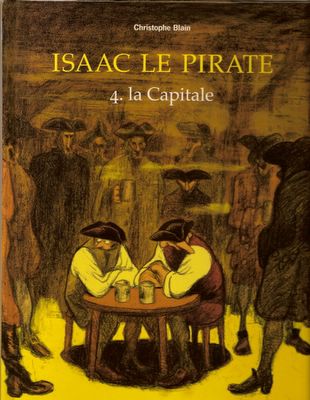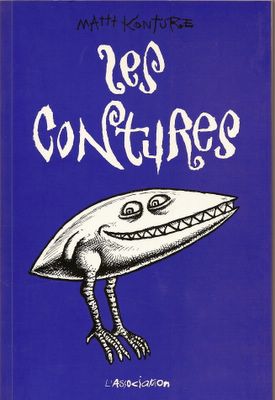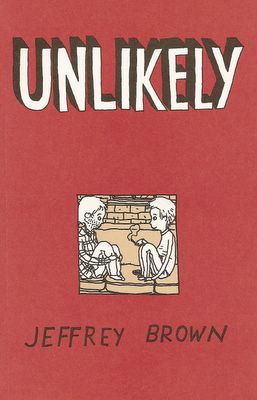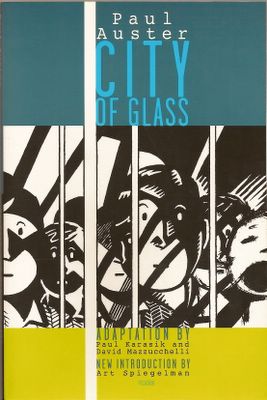Infelizmente ainda não se pode dizer que Osamu Tezuka seja um autor sobejamente conhecido do grande público português (lamentação que se poderia esticar a outros autores, outras áreas, outras coisas, por isso é melhor não nos esticarmos), se de todo. Como não param de dizer os autores das suas biografias, estudiosos da história da banda desenhada japonesa (mangá), ou entusiastas críticos de Tezuka, “não é por demais exagerar o peso que Tezuka exerceu no desenvolvimento da bd moderna no Japão”. Praticamente reinventou-a sozinho.
Para um entendimento informativo da carreira e biografia de Tezuka, não posso mais fazer do que remeter a leituras mais indicadas, como os livros de Frederik L. Schodt, o site que lhe é dedicado (http://en-f.tezuka.co.jp/) e as suas obras, que vão sendo cada vez mais acessíveis numa série de línguas mais próximas (espanhol, francês, inglês).
Uma das coisas que mais me surpreende em Tezuka, em primeiro lugar é, associado à incrível profusão do que publicou em vida, é a sua diversidade: bandas desenhadas de todos os géneros e misturando-os, adaptações de clássicos da literatura (a de Crime e Castigo, de Dostoievski, é a mais marcante que conheço), livros ilustrados, séries infantis e juvenis, animações, biografias (sobre Walt Disney), e até mesmo obras semi-pornográficas ou de teor mais adulto. E o seu estilo sofreu mudanças drásticas, ao princípio (anos 40) muito próximo de uma certa produção de animação e cartoons editoriais (à la Fleischer, ou Disney) para se tornar cada vez mais “Tezuka” propriamente dito – e que influenciaria todas as gerações seguintes e até mesmo aquilo que mais rapidamente apontamos como típica mangá ou anime... Seria preciso chegar à revista Garo e aos tempos da contestação estudantil dos anos 60 e 70 para começarmos a ver trabalhos em diferentes direcções, e os últimos anos para encontrar novas impulsos estéticos, menos devedores (e mesmo assim há dúvidas) a Tezuka. Não adianta comparar Tezuka a Disney, Barks ou Kirby nos E.U.A. ou a Hergé no eixo França-Bélgica, pois o peso do autor japonês foi muito mais sentido no seu país (e arredores).
A segunda bateria de surpresas que sinto, mesmo em séries comerciais como Astro Boy, ou Atom, é o génio de invenção a que Tezuka se entregou. Uma vez que estava numa fase incipiente desta arte no seu país, isto é, uma banda desenhada como é entendida modernamente, Tezuka empregou pela primeira vez uma série de recursos, e é um autor que nos surge tão deslumbrante como McKay ou Herriman nas suas experimentações.
Seriam inúmeros os pontos que se poderiam demonstrar serem característicos deste autor. As personagens que fisicamente se assemelham mas surgem com diferentes nomes de série para série – como se de actores reais se tratassem em vários desempenhos, e é assim mesmo que são apresentados no site indicado – é um deles. Essa característica está patente em Phoenix, já que vogamos entre tempos passados e futuros encontrando mais ou menos as mesmas personagens, sempre em equações de relação diferentes, mas inteligíveis enquanto reencarnações da mesma alma: talvez o tema central desta série. A fénix é apenas um símbolo central para o contar as histórias que a circundam. Enquanto objecto de desejo ou mesmo cobiça pela imortalidade, esse pássaro parece quase surgir como anima mundi, ou além do nosso mundo mesmo, já que se chega a um tempo para além da existência da civilização humana. A ética budista, e as suas implicações ecológicas e morais de respeito universal pela vida estão patentes em todas e cada uma das histórias, o que não impede que Tezuka retrate impiedosa e cruamente a crueldade de que os homens foram, são e serão ainda capazes.
A diversidade da cultura e leituras de Tezuka permite-lhe dar tanto um sabor histórico a esta estória, como penetrar pela mais endiabrada das críticas sociais nestroutra, como em fantasiosas futurologias naquela. A estrutura livre de cada episódio desta série faz com que comecemos nos primeiros passos da História do Japão e terminemos a milénios de hoje, já os humanos extintos, ziguezagueando de trás para a frente até quase atingirmos o nosso tempo presente. Tezuka fizera uma primeira versão mais infantil em 1954, para a revista Manga Shonen (“Banda Desenhada para Rapazes"), e depois outros falsos arranques, mas em 1967 reiniciá-la-ia de vez na revista, para trabalhos mais maduros, COM. O seu último episódio seria, portanto O Sol, publicado entre 1986 e 88, apesar de alguns planos de Tezuka em a continuar... Esta nova edição americana será a primeira edição integral estrangeira de toda a série (sua versão definitiva), que infelizmente ficou inacabada dada a morte do autor, em 1989.
Todos apontam para que esta seja a série que Tezuka elegeu como a sua Obra-Prima, aquela para que mais dirigia os seus esforços criativos e mesmo filosofia de vida. De facto, coligem-se aqui todos os seus princípios estéticos, estratégias de desenho e diegese, ontologia, e saber. É uma obra de fôlego, que a cada novo episódio nos faz reconsiderar a um só tempo toda a série, toda a obra de Tezuka, e toda uma atitude perante a banda desenhada enquanto entendida como “deve ser assim” ou “deve ser assado”. A liberdade está toda aqui nestes avatares que se passeiam sob os nossos olhos.