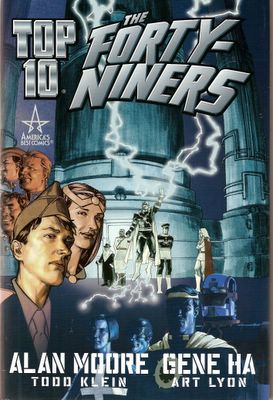Um dos temas que penso ser claro interessar-me no estudo geral da banda desenhada é a teoria dos géneros. Não é a primeira vez que o digo. Por vezes, os géneros existem para ajudar, outras tantas são um obstáculo à leitura de dado livro. Outras ainda, são os próprios autores que partem do interior dos géneros para poder brincar com eles.
Ed Brubaker começou a sua carreira como autor “completo” de banda desenhada alternativa, dentro das linhas costumeiras de uma certa autobiografia urbano-depressiva, se bem que alguns dos seus trabalhos antigos ainda hoje mereçam atenção, como, por exemplo, Lowlife (há uma antologia). Mas o seu crescimento rapidamente entrou pela colaboração com colegas fora do mainstream, com um soberbo policial, The Fall com Jason Lutes (de Jar of Fools e Berlin, City of Stones), e depois aproximar-se do mainstream mais enraizado (DC Comics) mas paulatinamente e sempre com a linha do policial: Scene of the Crime, com Michael Lark and Sean Phillips, alguns títulos relativos a Batman, etc. Mais recentemente, tomou conta de um “arco” (nome que se dá a uma história mais ou menos una dentro de um título serial que não tem, em princípio, fim editorial) da equipa de super-heróis “pós-políticos” The Authority, mantendo a qualidade das expectativas criadas pelo criador original, Ellis, e agora trabalha para a Marvel com um tal de Capitão América.
Sleeper foi uma série que durou dois anos, o que em calendarização comercial de comics dá dois volumes de 12 comics cada. Trata-se da história de um agente, Holden Carver, infiltrado, duplo, que aos poucos perde a confiança nos princípios que regem a sua missão, descortinando a idêntica duplicidade dos seus “patrões”, das suas “presas”, e vai-se tornando um agente triplo, quádruplo, múltiplo, até se decidir a trabalhar somente para si. É também interessante testemunhar como Brubaker inverte a típica solução de terminar um conto do fantástico com um “afinal era só um sonho e então acordei”, com a acção contrária: a recompensa final de um sleeper (agente infiltrado para acções futuras) é afinal um sono, que se aventa eterno (mas, como o amor em Vinicius de Moraes, nos universos dos super-heróis nada é para sempre ou só é para sempre por agora).
A série trabalha dentro dos limites de uma expectativa comercial, logo, não se esperem surpresas de maior em termos gráficos, formais, ou mesmo de exploração na construção das personagens. No entanto, na continuidade do seu Point Blank, Brubaker faz convergir a escrita e o ambiente do policial no universo dos super-heróis. Claro, nada de novo a Oeste. Essa é precisamente a premissa de anos e anos de Batman, da passagem de Frank Miller pelo Daredevil, de séries mais recentes como as autoradas por Brian Michael Bendis (sobretudo Powers), e todas elas devedoras do triunvirato americano de Dashiell Hammett, Raymond Chandler e Rex Stout.
Ainda assim, Brubaker apresenta alguma mestria em preparar os seus episódios. É curioso que esta é precisamente uma série onde é clara a discrepância em ler cada um dos comics de mês a mês a ler tudo de uma assentada (que é o que fiz, apesar de ter sido em comics emprestados)… Pergunto-me se a estratégia seguida seria a mesma se Brubaker pudesse ter escrito isto como – utilizando essa termo vazio - graphic novel. A narração externa é sempre feita pelo próprio Carver, com as “caixas” de texto em formato de folhas arrancadas a um diário, começando num ponto do tempo a partir do qual se recua até retornar a esse mesmo ponto e depois avançar. A fórmula é repetida, mas jamais se torna maçadora. Os dois anos correspondem a dois “arcos” e a duas peripécias, engalanadas com as suas reviravoltas, suspenses, surpresas, e desenlaces. As piscadelas de olho a outros autores são subtis, mas não obscuras, as piadas internas ao universo em que se inscreve também, e mesmo quando se estiva pelos pressupostos desses mesmos universos (alienígenas), as coisas são feitas de modo pouco histérico e rapidamente “lógicos” nos encaixes narrativos. O nome de Carver talvez seja, talvez não, uma homenagem ao escritor Raymond Carver, conhecido poeta e novelista da classe trabalhadora norte-americana. E o agente Holden parece de facto começar como um bom “escuteiro-mirim”, cheio de boa vontade e amor pela Justiça e Liberdade (à la “Cap A”) mas que tropeça nos verdadeiros propósitos dos publicitários desses ideais e nos cordelinhos que o comandavam ocultamente… Nesse aspecto, é como que um Comediante (dos Watchmen) que desperta “por fora”. O inglês de Brubaker não é propriamente difícil, mas voga confortavelmente em vários níveis, esposando-os de uma forma feliz, e permite um ritmo da linguagem muito credível – se bem que longe do “realismo fodassse”, para citar Mário Moura. As interrelações das personagens, por mais estranhas que elas nos pareçam se descritas de fora – um homem que se chama “Genocídio”, uma mulher que só não é frígida se matar alguém, um “Organismo Aumentado Tacticamente” – acabam por se tornar bastante humanas e até ternurentas, mostrando belos momentos da amizade entre dois homens, mesmo quando despacham com as próprias mãos uma vintena de agentes da F.B.I. ou como os namoros são sempre uma dor de cabeça, mesmo com a colega assassina de todas as missões…
A arte de Sean Phillips é contida, convencional, as cores ora pálidas ora escuras, mas perfeita para a apresentação de uma história sobre “covert missions” nos espaços intersticiais das sociedades e políticas humanas.
Nota: agradecimentos a Gonçalo Freitas por me ter emprestado toda a série. Em comics! Sim, existem ainda pessoas normais.Existem neste momento 4 trade paperbacks a coleccionar toda a série.