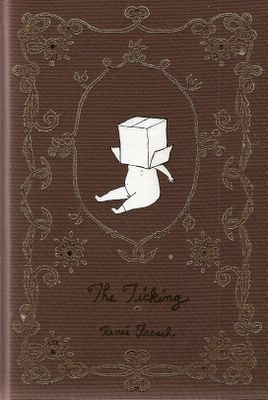Este livro deve ser entendido não como um catálogo da exposição dos Museus indicados como co-publicadores institucionais (o Hammer Museum e The Museum of Contemporary Art, L.A.), apesar de ter sido a propósito dessa mesma exposição que este livro viu a luz do dia, mas antes como o complemento textual, ensaístico, crítico, da mesma.
O propósito era reunir o máximo de material relativo a um grupo restrito mas significativo de “mestres” da banda desenhada norte-americana. Como todas as escolhas, é natural que leve a posições determinadas, que poderá eventualmente não agradar a todos, especialmente quando não se inclui um “nosso” favorito (nesse aspecto é como a atitude perante uma selecção de futebol, que é feita por um responsável, mas existem sempre “alternativas” verbalizadas pelos que estão de fora). No entanto, a escolha deste 15 autores parece-me extremamente pertinente, quer em termos históricos, atravessando paulatina e modelarmente os períodos históricos em questão, como, não estando todos eles em relações directas uns com os outros, mostram porém um fluido entendimento da história. Só para nos situarmos, fala-se centralmente de Winsor McKay, Lyonel Feininger, George Herriman, E.C. Segar, Frank King, Chester Gould, Milton Caniff, Charles M. Shulz, Will Eisner, Jack Kirby, Harvey Kurtzman, R. Crumb, Art Spiegelman, Gary Panter e Chris Ware. E a apresentação é feita do seguinte modo: em primeiro lugar, um longo ensaio dividido em pequenos capítulos que fazem um retrato da história da banda desenhada nos Estados Unidos, concentrando-se sobretudo nesses autores, por um dos editores, John Carlin (que escreve extensivamente sobre arte norte-americana contemporânea; os outros dois editores são Paul Karasik, artista de que já falámos, e Brian Walker, filho do Mort Walker do Beetle Bailey/Recruta Zero e autor de alguns livros sobre a história da banda desenhada no seu país). Em segundo lugar, segue-se uma série de curtos textos, escritos por vários autores - desde autores como Jules Feiffer, Patrick McDonell, Matt Groening, a editores como Françoise Mouly, escritore como Tom De Haven, e malta do mundo das artes “sérias”, desde o comissário Robert Storr ao artista Raymond Pettibon, entre outros. Estes textos oscilam entre o breve ensaio, a colecção de factos, a alucinação teórica e desabafo criativo (Pettibon, who else?), as notas pessoais, a magnífica ainda que curta leitura....
Apesar destes nomes centrais, e o estabelecimento não só de uma espécie de “fio vermelho” que os une numa espécie de, não diria continuidade (uma visão historicista de progresso que não se adapta à fluidez e metamorfoses da arte), mas de campo de forças, o autor do maior ensaio mostra preocupação em apontar os nomes de outros que não foram “convidados” a estarem nesta linha de apresentação, mas cujo trabalho ou significação foi central. Por exemplo, o facto de Shuster e Siegel e de Bob Kane não estarem presentes é natural, já que no território artístico de ambos, Milton Caniff e Chester Gould (respectivamente?) são de facto superiores, e no que diz respeito ao género dos super-heróis, foi Jack Kirby quem melhor expressou uma visão e uma voz pessoal. A ausência de Barks, de Floyd Gottfredson ou de John Stanley dever-se-á talvez à presença de Shulz e, quiçá, ao mais central papel de influência deste último, dos trabalhos infanto-juvenis possíveis (se bem que Peanuts escapa desse campo...), ou talvez ao facto de que as personagens desses artistas não lhes pertencessem, mas a uma companhia? Mas Kirby... Bom, o mesmo se diria de Charles Forbell, de Hal Foster, de Pekar, de fulano e sicrano... Estas justificações serão seguramente balizadas e multiplicadas para a inclusão destes artistas e a exclusão de outros; tinha de se fazer uma escolha, e ela é pertinente.
Esse “fio vermelho” é constante através de pequenas frases, escolhas de características de um artista para falar das ou contrastar com as de outro, num texto que não só se lê muito facilmente como revela grande inteligência e equilíbrio de recursos intelectuais. O trabalho de integração de Carlin é verdadeiramente a pérola deste volume, se bem que não seja nada displicente a inclusão dos restantes textos, e todas as imagens (reproduções de arte original – mas atenção a Spiegelman! – antes de serem impressas finalmente) são uma magnífica visão destes mesmos artistas. São breves, como não podia deixar de ser, as leituras que Carlin faz de cada um dos autores focados, mas elas são de análise, o que se chama de “close readings” (de uma página de Domingo, por exemplo, ou de um trecho narrativo, como no caso de Segar), extremamente completas e atentas, e que rasgam um sulco por onde será possível continuar a trilhar no estudo desses mesmos trabalhos.
Este livro é muito mais compreensivo do que muitos outros livros análogos, por um lado por não se dispersar em todas as direcções possíveis, mas por estar balizado com um trabalho de extrema competência de equipa – a que Carlin serve de “cabeça”, de “testa de ferro”. No sentido histórico de que falei, lembrará o livro de Joseph Witek, Comic Books as History, em que há uma integração das obras de Jack Jackson, Spiegelman e Pekar como vozes dissonantes da História (enquanto discurso hegemónico e oficial), ou outros títulos que versam o mesmo tema (há um sobre a revista MAD, mas não me recordo – nem tenho – do título). Por outro lado, deste lado do Atlântico, melhor dizendo, recordará o volume Maîtres de la bande dessinée européenne, editado por T. Groensteen, mas quer o aspecto textual e contextualizador quer o aspecto gráfico deste livro presente é bem superior ao europeu.
Voltemos atrás. Como se entenderá, uma das características mais importantes desta antologia, e que os textos de Carlin corroboram, é a diversidade dos estilos, objectivos, públicos, e linhas pelas quais se cosem os trabalhos incluídos. As naturezas são tão diferentes que ocorreria um perigo de trazer à colação objectos absolutamente diversos. Mas aí reside a inteligência da escolha: são trabalhos diferentes, para públicos diferentes, de suportes e circunstâncias diferentes, mas nada disso leva a que sejam, em si, ou entre si, inferiores em termos de qualidade estética. Carlin sublinha os aspectos em que cada uma das obras seleccionadas é excelsa. A beleza operática de McKay não é idêntica ao minimalismo de Shulz, e as aventuras para jovens adultos de Caniff nada têm a ver com os experimentalismos gráficos de Spiegelman, tal como a poeticidade de Herriman é bem diversa da de Chris Ware... Mas cada um deles, a seu modo, cumpre o grande papel da sua arte particular, que é precisamente o de serem surpreendentes, ao mesmo tempo que mantêm um estranho nível de familiaridade. Contribui essa forma de pensar para evitar os perigos de instituir um qualquer discurso a priori, ou pior, exterior, para procurar justificações de valor da banda desenhada, mas antes nutrir uma atenção que nasce na convivência com ela, que nasce dos seus limites e das suas forças, uma óptica, portanto, plasmada ao seu objecto. Mas uma visão que, por ser inteligente e atenta, também altera a percepção desse mesmo objecto, naturalmente.
Apenas adianto que teria sido aconselhável incluir uma espécie de bibliografia mínima para que os leitores deste livro-catálogo pudessem aceder aos trabalhos aqui apresentados. As monografias, livros de história, estudos contextualizadores e outros encontram-se referenciados ao longo do texto ou nas notas, mas falo de uma “Lista de Leitura”, que ajudaria em muito a uma primeira visita àqueles que não conhecem estes artistas. Mas esse é um pormenor pouco importante, visto o imenso e belo gesto que este livro cumpre.