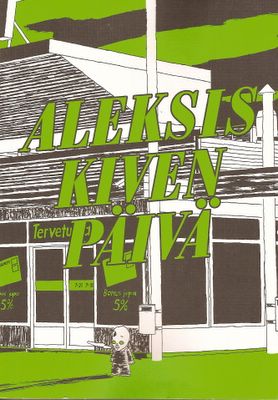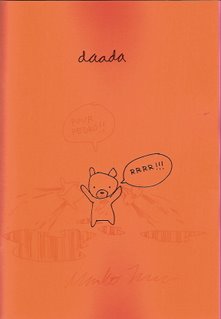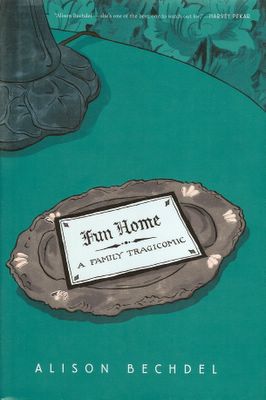Sobre antologias já falámos muitas vezes, e o que elas significam enquanto gesto de agregação, de construção de critérios, de estabelecimento de prioridades e modelos.
A presente antologia foi compilada por Ivan Brunetti, ele mesmo autor de banda desenhada, quer num tom extremamente corrosivo e que se move nalguns graus de violência, ou de uma atenção subtil para com as biografias de outros artistas “incompreendidos” e “amaldiçoados” (Satie, Mondrian e Françoise Hardy, por exemplo). O outro aspecto importante é ser uma edição da Universidade de Yale, o que traz logo um peso de respeitabilidade grande... à partida, como veremos.
Brunetti confessa, enquanto editor, que as razões que o levaram a coleccionar os trabalhos aqui incluídos – apenas dos territórios norte-americanos, salvo uma excepção - se prendem com memórias pessoais, ou melhor, o facto de que estes trabalhos são aqueles que por mais tempo vibraram na sua memória pessoal ou que ele mais revisita nas suas leituras. Ora isto faz e não faz sentido, pois se de facto acreditarmos nisso, teríamos logo de nos perguntar porque é que não estão presentes quaisquer tiras de Schulz de uma forma mais directa, aparte dos trabalhos de homenagem ao mesmo por outros autores ou um artigo incluído desse autor; ou porque apenas se apresenta uma prancha de alguns autores clássicos; ou porque é o que o seu amigo Johnny Ryan não tem nada presente. Por outro lado, se bem que a antologia seja equilibrada em termos políticos, sexuais, estéticos e até cronológicos (mas o peso é bem maior nos trabalhos contemporâneos), algo nos deveria fazer perguntar porque é que não se apresentam quaisquer trabalhos de séries de aventuras, como as de Popeye, de Dick Tracy ou qualquer dos trabalhos de Milton Caniff (e já nem falamos de superheróis, obviamente). O problema não é estarem essas séries ausentes, pois isso teria a ver com uma escolha, que é sempre pessoal e intransmissível, mas falo das razões de fundo que levariam a essa opção, que não se torna clara na selecção final.
Há aspectos positivos: pela primeira vez temos acesso num só local o trabalho completo de Richard McGuire, Here, a meu ver um dos mais magníficos trabalhos na experimentação formal da banda desenhada, explorando as suas conturbadas relações entre espaço e tempo; mostra-se uma plataforma descomprometida e arriscada, ao colocar num mesmo objecto nomes tão sonantes na história e na contemporaneidade dos comics norte-americanos – Herriman, Sterrett, Crumb, Ware - como jovens com alguns mas recentes (e seguríssimos) passos – Huizenga, Heatley, Brinkman; denota alguma capacidade de arqueologia, ao repescar trabalhos menos acessíveis, como o de Mark Newgarden, de uma Raw, e trabalhos curtos de algumas outras antologias modernas contemporâneas; é uma estratégia inteligente em misturar banda desenhada tout court, objectos na fronteira e outras obras incategorizáveis (como as de Darger, ou até a de Panter); revela uma grande sensibilidade em juntar obras de tons tão dispersos e chega mesmo a arriscar-se inaugurar uma atenção, como na inclusão de Masereel numa obra destas...
Mas como disse, há alguns problemas na antologia, em termos gerais, e que o são paradoxalmente em relação às forças indicadas. Três. Em primeiro lugar, não me parece ser a promessa feita pelos parâmetros duma publicação deste tipo apresentar apenas excertos de unidades narrativas maiores. Quer dizer, se apresentar apenas três pranchas de Jimbo in Purgatory faz sentido, pelo próprio carácter fragmentário e citacional da obra de Panter, ou apenas uma “Sunday page” de muitas das séries clássicas (Krazy Kat, Polly and Her Pals e a contínua Gasoline Alley) apresentar apenas uma porção de uma história maior de Mark Beyer ou Richard Sala acaba por ser contraproducente em relação a uma visão do ritmo que cada um desses autores consegue criar, ou não é suficiente para entender as subtilezas da construção das personagens de Berlin de Jason Lutes ou de Maus de Spiegelman, e muito menos do fenómeno intricado que é o Jimmy Corrigan de Chris Ware. Poder-se-ia dizer que não havia outro modo de incluir estes trabalhos. Talvez a complementaridade de textos de introdução ajudasse. Em segundo lugar, a ausência de informações mais concretas da proveniência de cada trabalho (data, publicação, etc.) não torna esta antologia nem num instrumento de trabalho exacto nem sequer numa mais balizada forma de colocar os leitores menos familiarizados com estes trabalhos no caminho mais curto de uma descoberta mais acabada; o que a torna uma obra algo descoordenada perante os propósitos gerais de uma editora académica como a da Universidade de Yale. Finalmente, o título “ficção gráfica”, não obstante as desculpas do editor, não cobre precisamente o que é apresentado. Estas eternas questiúnculas sobre o nome não levam a grandes soluções se um equívoco (“comics”) é substituído por outro (“graphic novel”, “picto-fiction”, etc.); mais vale ficarmo-nos por uma denominação relativamente consensual em termos sociais, e aceitar que ele englobe os mais díspares objectos culturais (isto é, o mais amplo espectro do que a banda desenhada consegue atingir ontologicamente). É o que os próprios percursores indicados por Brunetti fizeram: as antologias do Smithsonian, e a McSweeney’s editada por Ware, etc.
Apesar de um bom conhecedor e leitor atento (até deste blog, se mo permitem) estar mais ou menos ciente de quase todos os autores e trabalhos incluídos nesta antologia, ela é, não obstante e passe o pleonasmo, mais uma antologia, e, enquanto tal, uma boa porta de entrada a um domínio tão amplo quanto a ignorância da esmagadora maioria dos leitores, inclusive aqueles que se deixam numa cegueira “aspectual” criada pela leitura de apenas um nicho da sua criação.