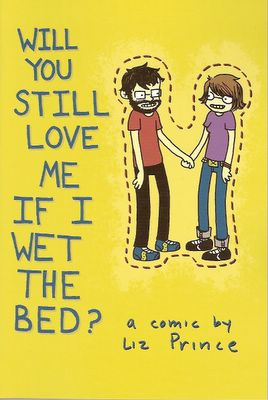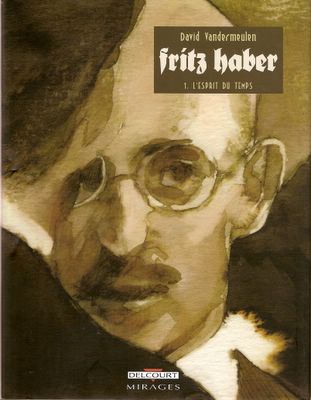Esta publicação, apesar de ter nascido no seio de um curso – com todo seu encargo pedagógico, experimental, estruturado por etapas e projectos muito bem definidos -, não pode ser vista como uma espécie de “álbum de curso” ou como “coroa” do trabalho desenvolvido pelo mesmo, a saber, o curso do Centro de Imagem e Técnicas Narrativas, que até à data tendo guarida e apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, prepara-se este ano para transitar para o interior da ESBAL, mantendo-se os seus formadores, a sua razão de ser, ainda que haja uma nova abertura e necessária mudança de estratégias. Deve antes, portanto, ser visto como uma publicação relativamente independente dos propósitos gerais do curso, ainda que sob os auspícios de dois formadores centrais, Zepe (José Pedro Cavalheiro) e Miguel Valverde, e erguido pela vontade dos autores participantes. Segue ainda uma espécie de regra interna: são todos projectos (10) de colaboração entre um argumentista (mesmo que este se desdobre em duas pessoas) e um artista. Logo, têm todas as histórias um pendor narrativo – mais ou menos claro, conforme os exemplos – o que não surpreende, dado o nome da instituição agregadora. Seja como for, o historial está feito na própria publicação. A única frase desses textos introdutórios mais misteriosa é a última, rezando que “no contexto nacional em que a livre vontade e a associação de pessoas continua a não existir”. Não entendo mesmo a que se referirá, já que nos poderíamos perder numa tarde inteira sobre exemplos de colaborações em banda desenhada na nossa praça, se bem que todas sempre com frutos e alcances diversos.
A eles, os exemplos, vamos, sem nenhuma das leituras se prestar à sua imediata aplicação a todo o projecto, que se prevê diferente todos os anos da forma mais profunda, aliás como outras publicações já aqui discutidas...
É curioso ser o tema unificador a memória, já que este é um tema francamente ausente da produção nacional na banda desenhada, seja esta entendida como depósito colectivo seja como vivência pessoal. Se bem que possamos elevar qualquer autobiografia como um exercício de memória, são poucas as obras que conseguem fazer com que os próprios mecanismos da memória exerçam uma forma e uma experimentação no modo como essa banda desenhada se comportará. De maneiras diferentes, há autores que o fazem, porém. Craig Thompson fá-lo em
Blankets, ainda que velado por uma certa auto-ficção; Taniguchi, ainda que seja absolutamente ficcional, construiu uma obra-prima com os ritmos da memória reconstruída (pelas dos outros) em
Le Journal de mon Pére; e
Edmond Baudoin é um autor cuja obra nos últimos anos se tem estruturado precisamente em torno da Memória enquanto, não tema, mas matéria, com óbvio destaque para
Éloge de la Poussière e
Le Chemin de Saint-Jean. Não querendo ser indiscreto a nível pessoal, mas avanço desde já que há um autor jovem português que prepara (poderá demorar anos, mas fá-lo-á seguramente) uma obra dentro dos mesmos moldes e que criará algo de extraordinário entre nós. É esperar... Este circunlóquio todo serve só para poder dizer que a memória aqui é apenas uma linha diáfana, uma sombra secundária por detrás das histórias apresentadas, e não propriamente um fio vermelho que as faça brilhar em conjunto ou numa qualquer continuidade que os leitores pudesse eventualmente criar. Assim sendo, cada um dos projectos individuais vale por si só e terá as suas fraquezas e forças particulares.
Pedro Burgos tem já uma carreira invejável, e não querendo ofender o trabalho de António Procópio, a primeira história possui um peso urbano e de desencontro que os leitores de
À Esquina, com textos de João Paulo Cotrim, não acharão desigual.
1630 sofre de um excesso de dramatismo gráfico que não serve ao tom liso e quase indiferente à corrente da vida do protagonista.
Numa Noite é um daqueles argumentos que talvez pense que o ser-se indirecto e incompleto o torna mais “interessante”, mas a falta de subtileza dessas ausências apenas o torna “confuso”, o que, servido de um grafismo histriónico e dessa estranha qualidade do “amador-virtuoso”, poucos frutos alcança. Conhecendo outros trabalhos de Ilda Castro, mais “minimalista” (digamos...), a sua complementação gráfica à pequena crónica feminina de Sandy Gageiro é surpreendentemente bem-encaixado e produtivo, ainda que haja pequenos detalhes que pudessem ter tido mais impacto (o surgimento do rosto da personagem principal, o aberto contraste gráfico com a sua “sósia jovem”) e a presença de mais texto não iria fazer desmoronar o edifício, acabando por soar o que surge mais como apontamentos poéticos meio disparatados do que pontos essenciais à narrativa (maioritariamente “muda”). A parceria de Cátia Salgueiro e Susana Ferreira é graficamente interessante, não obstante a separação das vinhetas e a presença do texto ser uma opção maquinal que destoa do restante trabalho; o texto tem uma presença forte, divorciada de um emprego banal com as imagens, criando um estranho, dúbio mundo de duplos, escapatórias, o eterno confronto entre um mundo banal e uma ligeira fantasia, tornando
Uns dias melhores que outros num dos exercícios melhores que outros...Os desenhos de Nuno Villamariz são interessantes, ainda que não mantenham sempre a mesma qualidade (sobretudo em grandes planos de rostos), e a patina que parecem imprimir a toda a cidade e seus transeuntes (o grão do carvão) fazem com que o texto subtil de Francisco Pinheiro, sobre um desencontro e uma reunião familiar, sirva de um complemento que não destoa. O desenho de Simona Accattatis é claramente infantil, e a fábula epidermicamente tradicional não transforma esse estilo numa opção operativa, apesar do visível esforço em o empregar em situações visualmente inventivas.
A Coisa Amada sofre do msmo mal que
Numa Noite, com a agravante de ser menos claro ainda – e nada tem a ver com dificuldade ou subtileza! – e da flutuação da qualidade dos desenhos ser ainda mais vincada.
A Caixa Vermelha, apesar das seis páginas, consegue atingir precisamente essa matéria-memória de que vos falava atrás: o trabalho dinâmico dos desenhos, fruto de uma intensa pesquisa (e publicação) de Richard Câmara, tem uma franca aplicabilidade à busca da memória que Valverde aqui constrói, concentrado esse acto numa caixa que eleva a metáfora ao objectual; o contraste geométrico entre a personagem e os espaços parece verter a mesma dicotomia entre o que se é hoje e o que foi antes, reforçando a ideia barthesiana das fotos como um “isto foi” com o qual jamais nos reuniremos novamente. Finalmente, a singular e graciosa história de novos amores e segredos do passado de Cátia Salgueiro é servida plenamente por um estilo aparentemente infantil (mas não “infantil
mesmo”) de Rosa Baptista, que nos fará lembrar o trabalho de uma
Jenni Rope ou até de uma Anke Feuchtenberger, salvas as distâncias.
No entanto, no cômputo geral, esta é uma antologia e um objecto particular, com as suas forças especiais, bem superior a muitos outros projectos que por vezes se apresentam com maior arrogância de “mudança” e “pedrada”, para se resolverem como solipsismos comerciais. Não é, de todo, o caso. Trata-se de uma plataforma de apresentação e passos fora de um círculo de aprendizagem e de descoberta de territórios (ainda que alguns autores não sejam novatos nenhuns...). Esperemos que, como projecto pontual, sejam um ponto de uma linha que, mais adiante no percurso, possamos unir num contínuo caminho.